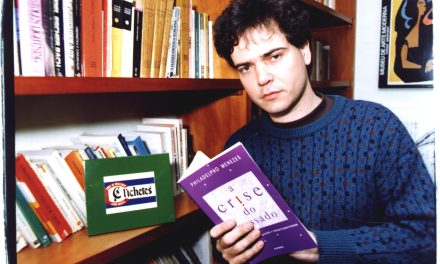Dos cinco, ou seis, até os onze anos, recolhia-se a um canto do amplo quintal na casa em que morava, escondia-se atrás de uma rocha ígnea volumosa, com talvez três toneladas força de peso, ignorando-se, contudo, a verdadeira dimensão em razão da parte soterrada, que se acomodava num terreno em aclive, circundada no entorno por rochas menores igualmente ígneas, e assim não podia ser visto por ninguém. A rocha distava uns quarenta metros da habitação que seu pai havia erguido, em terreno comprado de terceiro num loteamento recente após anos pagando aluguel, e se encontrava num espaço baldio, rodeada por vegetação rasteira, gramíneas, capins, arbustos, ervas daninhas, mamoneiras, que com os anos cedeu o lugar para construções de alvenaria, moradias que se avolumaram e desfiguraram a paisagem de uma vila afastada mais ou menos trinta quilômetros da capital paulista.
Dos cinco, ou seis, até os onze anos, recolhia-se a um canto do amplo quintal na casa em que morava, escondia-se atrás de uma rocha ígnea volumosa, com talvez três toneladas força de peso, ignorando-se, contudo, a verdadeira dimensão em razão da parte soterrada, que se acomodava num terreno em aclive, circundada no entorno por rochas menores igualmente ígneas, e assim não podia ser visto por ninguém. A rocha distava uns quarenta metros da habitação que seu pai havia erguido, em terreno comprado de terceiro num loteamento recente após anos pagando aluguel, e se encontrava num espaço baldio, rodeada por vegetação rasteira, gramíneas, capins, arbustos, ervas daninhas, mamoneiras, que com os anos cedeu o lugar para construções de alvenaria, moradias que se avolumaram e desfiguraram a paisagem de uma vila afastada mais ou menos trinta quilômetros da capital paulista.
Por quem passava pela rua de terra batida, o topo da rocha podia ser discretamente avistado, mas ela tinha uma forma que somente quem chegasse suficientemente próximo podia vê-lo, e isso não ocorria, ou era pouco provável ocorrer, porque entre ela e a rua as rochas menores, pontiagudas, disformes, e pés de mamona entrelaçados dificultavam o acesso. Não sabe, não tem lembrança do momento em que essas rochas, assim como a vegetação daninha inopinada, desapareceram e o espaço baldio em torno de sua casa ficou tão somente congelado em sua memória.
Por horas entranhado numa área apertada, em que podia se mover graças à flexibilidade e tamanho infantis, conversava consigo mesmo, elaborava narrativas em capítulos com os heróis que via nos seriados de TV. Nunca teve propensão para se juntar aos colegas da rua, os moleques como sua mãe os chamava, e participar de brincadeiras que ocupavam o tempo deles, por vezes observadas discreta e silenciosamente do portão de sua casa: bola de gude, taco, carrinho de rolimã, salva, pega-pega, cabra-cega, empinar pipa, caçar passarinhos, montar armadilhas para preás, fazer estilingues, jogar bola, confeccionar balões com papel almaço comprado no bazar da Dona Expedita, nadar numa lagoa que havia próxima não mais que um quarto de quilômetro d´onde morava. Dessa lagoa, não raro ouvia relatos de afogamentos. Um vizinho, com a mesma idade dele, numa ocasião foi retirado ainda vivo quando tinha sido dado por morto. “Ele ficou embaixo da taboa; não dava pra ver ele e aí eu vi que tava se mexendo e arranquei o mato; caralho! eu puxei a cabeça dele; ele tava com os´olho arregalado, meu…”, lembra vagamente ter ouvido do irmão que o socorreu. Um colega da escola, com quem praticamente não tinha relação, não teve a mesma sorte. A lagoa, bastante recortada, cuja área devia ter mais de cinquenta quilômetros quadrados, talvez dez ou quem sabe mais metros de profundidade nos lugares mais abissais, era margeada pela rua paralela à da casa dele. Podia, portanto, vislumbrá-la integralmente da rocha em que se recolhia; do lugar em que ficava, uns dez metros acima do nível da lagoa, seu horizonte visível era amplo. Assim, avistava os meninos da rua em que morava, e de outras ruas da vila, tomando banho, comparando e exibindo os pênis e casualmente batendo punheta depois de uma pelada entre as ruas de cima e a de baixo num campinho de várzea, com traves improvisadas de madeira, ao lado da lagoa. Nesse exercício voyeur, nem de longe desconfiava que como os via pudesse da mesma forma ser visto, espreitado com curiosidade por quem de longe se sente observado.
Alheio, além do tempo escondido atrás da rocha, ficava grande parte do dia vendo televisão – a escola, com horário de aula preciso, lhe reservava outras surpresas, outras experiências, o sentimento de desproteção longe de casa, de desajuste no ambiente público, de que simplesmente para a professora não era notado… –, um móvel de 24 polegadas, Telefunken (marca alemã de rádios, televisores, componentes eletrodomésticos fundada em 1903 em Berlim por Karl Ferdinand Braun, George Graf von Arco, Adolf Slaby com aval do Kaiser Guilherme II, último monarca da Casa de Hohenzolern – durante a II Guerra forneceu tubos de vácuo, transmissores e sistemas de retransmissão de rádios e localizadores direcionais como parte da defesa aérea alemã contra bombardeios aéreos; foi, por isso, a empresa líder alemã no campo da guerra eletrônica, especialmente na “medição de rádio”, como a Wehrmacht chamava os dispositivos de radar introduzidos para camuflagem; desenvolveu então os primeiros radares aerotransportados, o Lichtenstein, disponíveis pela temível Luftwaffe para caça noturna), em preto e branco, turbo, que depois de ligado demorava perto de um minuto para num flash as imagens surgirem no canal no qual havia sido desligado, e em decorrência era preciso girar um botão para, justamente, mudar os canais, que iam do 2, TV Cultura, ao 13, TV Bandeirantes (não havia sinal para os canais 3, 6, 8, 10, 12, o que o intrigava, e a TV Excelsior, o 9, do Mario Wallace Simonsen, que apoiou Jango em 64 ao contrário de Roberto Marinho, teve a concessão caçada pela ditadura militar). Onde morava, o sinal permitia ver a Tupi, a Record com nitidez. O sinal da Cultura era cheio de fantasmas, o da Globo também, mas a imagem um pouco melhor por que com movimentos aleatórios e delicados com a antena podia ser vista (piorava quando ventava, sob chuva torrencial). O sinal da Gazeta era chuviscado e sua programação não lhe despertava interesse, já o da Band, que o agradava, igualmente cheio de chuviscos tornava praticamente impossível ver qualquer coisa – sabia da programação pela leitura do jornal Diário da Noite, do magnata Assis Chateaubriand, Chatô, assinado por seu pai. Via, então, a Tupi, também do Chatô, a Record e a Globo na Telefunken comprada à prestação numa loja popular, a Loja do Silva, que ficava na vila, na avenida principal, a única asfaltada. O que o deixava infeliz é que, pelo menos uma vez por ano a Telefunken exigia a visita de um técnico (sempre o mesmo, um homem que o espantava pois macérrimo e extremamente alto; era a pessoa mais alta que havia visto e, adulto, ao se recordar dele, supõe tinha perto de dois metros, com silhueta cuja semelhança lhe permite traçar contorno similar à de Nikola Tesla, o engenheiro eletrotécnico sérvio que…), pois a “televisão queimou” e queimada ficava duas ou três semanas sem vê-la. Quando ficava sem ver televisão, então, depois de já ter sido alfabetizado, se retinha lendo. Embora criança os livros lhe fossem menos estimulantes do que a televisão, com eles foi despertado pela curiosidade por lugares, civilizações que alimentaram sua imaginação: os egípcios, os povos da Mesopotâmia, a mitologia grega, a labirinto do Minotauro, Ícaro, o velho oeste norte-americano que, nas aulas de geografia, identificava ao centro-oeste brasileiro.
Tinha fascínio por bang-bang. A Tupi e a Record eram repletas de bang-bangs na programação. Nas grades diárias desses canais viam-se tanto seriados, chamados filmes B, realizados pela Republic Pictures (o logo desse estúdio, uma águia com as asas abertas no topo de uma montanha, o fascinava, rapidamente era reconhecido e tão logo o via na TV ansiosamente aguardava o começo do filme), quanto longas de bang-bangs que inundaram os grandes estúdios hollywoodianos entre as décadas de 1940 e 1950. Via e revia Roy Rogers, Rin-tin-tin, O paladino do oeste, Durango Kid, Laredo, Chaparral, Bonanza, Gunsmoke, Cisco Kid. Não via Bat Masterson, nem James West, pois passavam na Band. E, à noite, antes de dormir, bang-bangs que frequentemente passavam no Cinema Classe Especial, Tupi, Cinema 7, Record, Sessão Coruja, Globo. Seu ator preferido era Audie Murphy, invariavelmente presente na programação da Record (John Wayne lhe parecia sem carisma, com sua indefectível cartucheira sem estilo, o lenço mal amarrado ao pescoço, o revólver de cabo marrom, o chapéu cinza cobalto de aparência puída, polainas…; nunca esqueceu, contudo, de Ringo Kid, a primeira vez que viu na Sessão Coruja, No tempo das diligências). Além de bang-bang não perdia Tarzan, Zorro, As aventuras do Zorro – O cavaleiro solitário, Kung-fu, Jim das Selvas, Vigilante rodoviário, Daniel Boone, Ivanhoé, Túnel do tempo, Perdidos no espaço, Viagem ao fundo mar, Jornada nas estrelas, Terra de gigantes, Batman, O gordo e o magro, Nós e o fantasma. Assistia a muitos outros seriados que, com o tempo, os títulos desapareceram de sua memória. Esses seriados e tantos filmes que passavam na TV deixavam-no deslumbrado, entorpecido, e assim reconstituía na imaginação as aventuras vividas por seus heróis. Quando se recolhia atrás da rocha, remontava os episódios, criava outros desdobramentos para o que havia visto, criava seus próprios heróis, com características semelhantes aos que via. Os enredos que imaginava tinham capítulos, sequências, desfechos. Em sua imaginação, compunha todos os detalhes para a construção de seus personagens. Mentalizava como eles se vestiam, a cor do cavalo, a cartucheira amarrada na perna, o Colt 45 cabo branco e cano longo, o chapéu preto com fita branca e aba curta, o lenço florido e bem alinhado preso ao pescoço, as esporas, as botas. Dava a seu herói imaginário todos os trejeitos e senso de justiça que via nos da TV. Ele, contudo, também se incomodava com sua mente imaginativa, com o que fazia quando se isolava e bolava ações de um herói que existia em sua cabeça. Indagava se apenas ele era assim, se os adultos percebiam seu comportamento estranho, e ficava por isso encabulado. “Hoje não vou pensar nas aventuras de Red Ryder, porque é esquisito; não sei por que isso, ficar pensando; acho melhor parar com isso; é só querer, mas querer não pensar…; como assim não pensar? Os outros também pensam que nem eu penso? Tipo: – Red Ryder entra no saloon…”. O isolamento era não só querido, mas também uma forma de se proteger, de não exibir uma estranheza que supunha outros não tinham, pois sentia que as outras pessoas viviam a vida concreta, verdadeiramente real, e ele se dividia; melhor: tinha para si mais fortemente presente heróis imaginados do que seres reais de carne e osso.
Entre seus heróis, mais que Roy Rogers, com seu revólver de cano branco, cartucheira estilosa, sua camisa florida, seu lenço bem ajeitado ao pescoço, que esvoaçava com o galope do veloz Trigger, ou o mascarado Durango Kid, o Zorro ocupava um lugar especial. O Zorro, o seriado de TV estrelado por Gay Willians, um produto da Disney, passava na Globo às 18h (fora do ar por um tempo, ficou extasiado ao saber que voltaria a ser exibido ao meio-dia, antes que esse horário da Globo fosse ocupado pelo Globo Cor Especial, primeiro programa colorido infantil da TV brasileira). Um dia viu o Zorro do Tyrone Power, viu também o do Clayton Moore, o de Robert Livingston, o de John Carrol – não tinha, de qualquer forma, imberbe, guardado o nome desses atores; apenas adulto esses nomes se incorporaram às suas reminiscências, ao rememorar os tempos de infância e seus heróis. Não gostou deles. Gostou menos ainda do Douglas Fairbanks, pois lhe faltava o bigode do Zorro, usava um capuz esquisito cobrindo a cabeça em vez de um chapéu e não tinha capa. Sentia ele que era Gay Willians, e o Zorro por ele interpretado lhe era tão presente que só adulto se deu conta de que Gay Willians também foi o professor John Robinson perdido no espaço com a família Robinson (aliás, dos seriados de ficção científica, inicialmente, não gostou de O túnel do tempo, pois as aventuras vividas pelos viajantes ao passado e ao futuro, os cientistas Doug Phillips e Tony Newman, não lhe eram compreendidas; conforme foi amadurecendo, contudo, e ávido pelas aulas de história na escola, os episódios desse seriado passaram a ter outro sentido para ele; mas só adulto, realmente, esse produto da 20th Century-Fox, encabeçado por Irvin Allen, se lhe revelou como típica propaganda ideológica sobre a superioridade científica norte-americana nos anos da Guerra Fria). Sentia verdadeiramente que havia absorvido de Guy Willians a máscara, a capa, a rapieira, a maneira de viver com o sentido de honra e justiça swashbukler de um jeito não imaginado na maldição de Capistrano de Johnston McCulley. Sua mãe lhe fez, de um vestido preto que usara em luto pela morte da avó, uma capa improvisada e uma máscara. Ele próprio improvisou de pedaço de cabo de vassoura uma rapieira. Quanto ao chapéu preto, era sorrateiramente recolhido do cabideiro onde seu pai o pendurava.
Com roupa preta, chapéu, máscara, capa e rapieira se transformava no Zorro e brincava de Zorro no fundo do quintal sozinho, ou em algumas ocasiões com um primo distante cuja tia vinha raramente visitar sua mãe (o primo, ao contrário dele, não cultuava heróis da TV, era mais jovem, três anos, e aceitava a brincadeira a contragosto, pois preferia empinar pipa, mas mesmo a contragosto, um tanto forçado pela hierarquia da idade, se submetia ao papel do vilão Capitão Enrique Sánchez Monastário; adultos, perdeu contato com o primo, que lhe sobreviveu apenas na lembrança das brincadeiras de criança). Embora não tivesse essa noção, ficava ressabiado com o sentido de duplicidade de alguém que sem máscara escondia outra personalidade. Sem máscara um eu falso. Seu verdadeiro eu se escondia. A caverna do Zorro instigava-o, com suas passagens secretas para um mundo paralelo incrustradas nas paredes da casa. Ficava divagando que podia transitar entre as paredes, surgir abruptamente como uma raposa na calada da noite e realizar um feito heroico. Dom Diego de la Vega, seus trejeitos dândi, era ele na escola, no convívio no dia-a-dia. Tal qual Dom Diego, frágil, fútil, incapaz de uma ação destemida. Escondido em sua caverna num canto no quintal, espreitava todos ao redor, media o comportamento dos adultos, sorrateiro escalava paredes, caminhava no telhado da casa, pulava no colo de um cavalo preto, partia para uma aventura. O Du, dois ou três anos mais novo que ele, perturbava na rua todos de sua idade, pois era forte, encrenqueiro e desafiador. Sempre pronto para briga, era temido. O Du (nunca soube se Eduardo, Duarte, ou algo assim), assim como os outros meninos na rua, mal dava pela presença dele. De fato, via ele o Du do portão de sua casa, sempre em ocasiões fugazes, ao sair para ir à escola, para comprar algo pedido por sua mãe no empório em que todos na rua compravam, e de ruas próximas também. As compras eram anotadas numa caderneta azul fosco, pois assim o dono do empório, o João Português, de origem lusitana, pois, controlava o que vendia fiado. Quase sempre, nas poucas vezes em que o via, o Du estava jogando taco. Era exímio jogador de taco. Costumava rebater a pequena bola de borracha (uma bola para jogo de tênis, encardida pela terra da rua), que era arremessada pelo oponente, girando o corpo lépido num movimento de trezentos e sessenta graus, em sentido horário, mas nunca ao contrário, só para humilhá-lo se marcasse o ponto. O comportamento petulante do Du, é certo, e ele notava ao chegar ao portão ainda que fugazmente, gerava fúria na mesma proporção que gozações quando falhava em seus lampejos exibicionistas. Era então que ocorriam entreveros com insultos de toda ordem que terminavam em brigas de rua. Estas aconteciam, entretanto, só no momento em que os ânimos estavam bem descontrolados, pois quem provocava ou era provocado temia apanhar do Du. Quando o entrevero perdia o controle, então, começava uma “briga singular” (muitas batalhas descritas na Canção de Rolando consistem em uma série de lutas singulares, “Charlemagne e Balingant se encontram no campo de batalha ao cair da tarde…”), um contra um e, na idade do Du, e mesmo quem fosse um pouco mais velho, tomava uma surra dele. Ele próprio, uma vez que pouco ficava na rua, viu o Du brigar apenas uma vez. Uma discórdia em torno da disputa de um ponto numa partida de taco e com um forte murro na boca de seu oponente deixou-o sagrando e com um dente quebrado. “Puta que pariu! Meu, você viu? O Du arregaçou a boca dele”, ouviu enquanto aquele que havia apanhado, chorando e limpando o sangue com uma das mãos, ia para casa, achincalhado. Não era comum, não soube de nada parecido, que os pais tirassem satisfação: apanhou na rua e apanhava em casa também. Du sabia que era assim, que esse era o código. Por isso, não se sentia minimamente intimidado. Sua violência, no entanto, não ia além do momento da briga de mão, a briga singular ao estilo Canção de Rolando, pois no dia seguinte, com o mesmo menino que brigara, fazia novamente dupla no jogo de taco.
Negro, com menos idade, era, entretanto, já mais alto que ele. Adulto, o Du chegou a um metro e noventa, assim supõe. Morreu com menos de trinta anos. Nunca soube bem as circunstâncias. O que sabe de modo pouco preciso, de conversas esparsas que ouve, é que, adolescente, ascendeu ao mundo das drogas, de pequenos furtos, parece, assim como já ouviu murmúrios de ter se tornado garoto de programa. Tudo impreciso e sua morte resultou do mundo violento em que se meteu. De certo modo, o Du é um personagem criado por ele a partir de conversas soltas que ouviu. Pois, de fato, não sabe como era a vida dele. Algum tempo depois de ver o Du esmurrar a boca do parceiro no jogo de taco, voltando do João Português se aproximou ele de uns quatro ou cinco meninos da rua que estavam, num dia frio de inverno, aquecendo-se em volta de uma fogueira em rescaldo da noite anterior. “–… a gente saiu correndo pra pegar o pipa que eu cortei do cara da rua de baixo, ele não vinha atrás, né? Né lôco! Né? Aí, meu, atrás das pedra no final da rua, o pipa caiu lá, a gente pegou… chupando o pau do Du…”, dizia um deles, enquanto outro completava: “– Caralho, meu, parecia uma garrafa de Coca-Cola atolada na boca dele…”. “–… eles tavam escondido atrás das pedra…”. “– … é, depois de arregaçar a boca dele enfiou o pau…”. “–… caralho, meu, eu nem desconfiava que … fosse viado”. “– … é mulher do Du…”. “– E você, almofadinha, que quer parado aí? Perdeu o quê?”, retorquiu o mais agitado para ele em tom de desafio. Assustado, com medo que investissem contra ele ao se reter por alguns segundos para ouvir o que falavam, apressou ele os passos para casa. Antes mesmo de chegar ao portão, ouviu os gritos de sua mãe: “– Quantas vezes tenho que falar pra você não ficar com esses moleques? Mas, …, pedi pra você comprar detergente e você traz Omo! O que você tem na cabeça? Volta pro João Português e troca isso…; sempre com a cabeça nas nuvens…”. “– Mãe, eu esqueci…”. “–… o almofadinha tá levando bronca da mãe…”, gargalhava o grupo em torno da fogueira rescaldada. Crianças, embora pouco contato eles tivessem, se sentia irritado com o comportamento do Du, e para ele, em sua imaginação, pois, precisava de um vilão para assumir o papel de herói, o Du, com isso, era ideal. Se pouco lhe importava participar das brincadeiras com moleques na rua (a expressão então era um alerta corriqueiro da mãe cuidadosa; para ela, e ele absorveu o tratamento, do fato do Du ser negro e moleque que vivia o tempo todo na rua, num mundo, num tempo, em que não havia a culpa que ele passou a sentir quando com a passagem dos anos e na mesma casa na vila que se urbanizou, ganhou asfalto e linha de ônibus, ao visitar sua mãe encontrava na calçada um moleque negro, um menino morador de rua, coberto no chão gelado, dormindo, e dele tinha de se desviar com culpa, mas não diferente de como desviava das fezes de cachorro que encontrava no caminho), o Du lhe era próximo porque morava numa casa do outro lado da rua, um sobrado vistoso à direita do portão da dele, uns quarenta ou cinquenta metros. Assim, próximos, se conheciam como se conheciam todos na rua, nas ruas próximas, na vila. Se a mãe dele cuidava para que ele não ficasse na rua, ela era, contudo, bastante sociável com as vizinhas. Não tinha intimidades como frequentar a casa delas nem de convidá-las para um café. Mas se inteirava dos acontecimentos da vizinhança em bate papos ocasionais, assim como, com as vizinhas, se distraia nas horas de ócio com assuntos mundanos.
Entre elas um assunto corriqueiro era o das novelas da Globo. A mãe dele acreditava que os personagens eram reais e não criados pelos autores das novelas: Janete Clair e Dias Gomes não existiam para ela. Idosa, nunca deixou de acreditar que novela é tão só obra de ficção. Ficava, assim, nas conversas com as vizinhas irritada ao ser contrariada quando alguma delas lhe dizia que o ator fulano de tal era o personagem com um nome numa novela e o personagem com outro nome em outra novela. O semideus Hugo Leonardo e o João Coragem existiam com esses nomes, mas Tarcísio Meira era um nome que tinha referência para ela como o nome do filósofo nominalista Roscelino de Campiègne, região hoje da Alta França, outrora Picardia, que atraiu a atenção com sua exposição sobre o dogma da Trindade, e por isso teve a interpretação de que é apenas um habito de fala afirmar que o pai, o filho e espírito santo são a mesma pessoa condenada pelo Concílio de Soissons. O ator nada lhe dizia, pois não tinha existência para ela fora do papel. As meninas se encantavam com os galãs das novelas. “– Tarcísio Meira é um pão – ouvia delas na escola; não sem que também ouvisse – Prefiro o Francisco Cuoco – nem que ficassem quietas as fãs do Dolabella”. Posteres deles eram colados nas paredes dos quartos delas. Muitas colecionavam revistas (TV Intervalo, Amiga, TV Sucesso, Sétimo Céu, Ilusão, Contigo, Capricho, Garotas…), que chamavam a atenção nas bancas de revistas com fotos posadas dos galãs, e se informavam sobre a vida de seus artistas preferidos na televisão. Mas a mãe dele não via nem lia revistas, embora soubesse que uma sobrinha que muito estimava teve a coleção completa da TV Intervalo, que foi picotada pela tia dele, pois a prima mentia que ia para a escola para encontrar casuais namoricos. A mãe dele assistia a novelas como ia à missa aos domingos: o que o Padre falava sobre o sacrifício de Abraão era tão verdadeiro quanto a morte do vilão no último capítulo e o final feliz da mocinha com o mocinho. Com isso ela não sabia, tampouco tinha como saber, que o semideus Hugo Leonardo não havia passado pelo serviço de censura do regime militar e que a trama de Janete Clair ficou engavetada na burocracia da ditadura, o que exigiu o acréscimo de capítulos do cavalo de aço Rodrigo Soares até ter a liberação confirmada pelos órgãos de censura.
Desafiou o Du para um duelo, sem que ele lhe tenha feito nenhuma desfeita, exclusivamente pelo sentimento de que lhe cabia proteger os oprimidos da sanha do facínora, e para o combate singular ofereceu ao Du um pedaço de cabo de vassoura por rapieira. Vestiu a capa, pôs a máscara, o chapéu, montou o cavalo e foi encontrar o malfeitor. O vilão era arrogante, altivo, petulante. Precisava de uma lição para não ficar apavorando pobres moradores desprotegidos em Los Angeles. Deixaria a marca do Zorro para o crápula não esquecer, estigmatizado para o resto da vida. Sem jeito, tentou acertar o cabo de vassoura do Du e, sem a mobilidade dele (apenas com os anos, quando lhe vinha a reminiscência daquela época, assomava para ele como um espectro indesejado a extrema habilidade do Du no jogo de taco, e assim indagava como pôde ter tido a insensatez de o desafiar naquilo em que ele era absolutamente soberano), recebeu uma estocada na mão com força e deixou cair a rapieira no chão. Du soltou uma gargalhada de escárnio. “Seu bunda mole!”, e completou: “Ainda vai querer brincar de espada comigo? Vai ficar na casa da mamãe vendo bosta na televisão que sê ganha mais, seu bosta”. Ele não respondeu; não teve reação; o sentimento de ridículo, de vergonha, tomou conta dele, do quanto havia se servido para gozações na rua: “Olha o cagão!”. “Lá vai o cabaço!”. “O Du devia ter acertado a cabeça do bichinha quem nem acerta o bola…”. “Meu, o troxa nunca jogou taco”. Ouvia por vezes, depois do duelo singular, quando passava na frente de um grupo que se formava quase sempre em volta da fogueira que pela manhã ainda aquecia o entorno até que o sol despontasse com todo esplendor nos dias frios. Nas gozações, pois sempre passava de cabeça baixa, reconhecia a voz daquele que quase havia morrido afogado embaixo da taboa. A capa e a máscara ficaram abandonadas por muito tempo em cima de uma caixa de papelão com outros objetos que não serviam para nada. Ao se isolar, o que continuou a fazer adulto, o Zorro persegue sua imaginação. Não supõe mesmo, quando adulto se recolhe, que sua imaginação seja diversa daquela da infância. Estranha profundamente cogitar que não haja nele alguma coisa singular e tudo ao redor se conforme à realidade vivida de um modo que ele não se conforma. Um duplo o acompanha sempre e não sabe quem é; por isso, alimenta um temperamento sorrateiro, desconfiado, avesso a amizades, a aproximações mesmo passageiras, pois sente uma opacidade absurdamente intransponível diante de alguém mesmo que esse alguém ignoto não lhe desperte nenhum sinal de perigo. À sua volta, tudo é hostil, perigoso, vive cercado por inimigos cruéis, mas sabe que frente a eles não faria mais do que fez ao enfrentar o Du. Ao sair de casa, tem no bolso das calças uma máscara para se proteger.
A solidão, tem ele o sentimento, apavora os adultos, sempre preocupados em estar rodeados por amigos, em fazer parte de panelas, patotas, para conversas fiadas vendo o tempo passar. “Matar o tempo!”. Essa uma expressão que para ele não tem o sentido de não ter o que fazer e por isso ficar vendo o tempo escorrer com papo furado sobre assuntos aleatórios. A sensação de resíduo de tempo à toa em qualquer circunstância é o que verdadeiramente o apavora; por isso, matar o tempo lhe tem uma literalidade terrível: matar a vida. Sente, no tempo morto, o quanto perde daquilo para o qual para ele é uma busca constante: ficar isolado com seus devaneios. Quando criança, via nos meninos na rua cumplicidades e desavenças que jamais teve, jamais se dispôs a ter. Não se sentia com isso excluído, que sofresse bullying (outra palavra com culpa que só com o tempo ganhou um sentido para o que no passado era um código de conduta, um rito de passagem do mundo infantil para o adulto – a crueldade pueril é um assunto de proa para especialistas em pedagogia e psicologia, com teorias que se renovam a cada geração e um vocabulário sobre o certo e o errado, que se mistura com diagnósticos patológicos, comprado pelos pais temerosos e incautos como comprassem um produto para consumo extraído da prateleira de um mercado qualquer; e assim se movimenta, e não seria diferente, no mesmo caldeirão a indústria de entretenimento e a farmacêutica), ainda que supunha, sempre supôs, seu ar, aos outros fosse estranho, gerasse pilhérias. Por temperamento, não tinha disposição para o convívio social. Não pensava, contudo, que como ato deliberado de vontade buscava a circunspecção. E, circunspecto, não nutria impressão ruim ou boa das pessoas: o desumano assassino em série do passado é um psicopata; o excêntrico de antigamente um altista. As pessoas, conviver com elas, tão só o desinteressava. Assim, não que tivesse, se as circunstâncias o exigissem, dificuldades intransponíveis para ficar no mesmo espaço com outras pessoas, mas que, com o querido isolamento, elas lhe eram categoricamente indesejadas. Não era ele, portanto, tomado por um mórbido humor reservado, ou pelo que muitas vezes pode ser visto como timidez, ainda que, e isso passa por sua cabeça e também lhe foi sugerido, seu caso bem pode ser objeto do tempo de trabalho de um psiquiatra, ou um psicólogo, mas a opacidade, bela palavra, a desconfiança, com respeito ao que um profissional diagnosticaria nele o impede de ter uma aventura num consultório higienizado, impecavelmente limpo, com alguém que depois dos honorários recebidos, conforme as convenções do mundo do trabalho, gastasse-os num restaurante chique em momento de lazer. Sua aversão à prática médica, à legitimidade científica herdada do positivismo por ela ostentada, leva-o a ter uma impressão do psiquiatra numa sessão clínica que não diferiria se tivesse pela frente um trambiqueiro, um embusteiro, um curandeiro, um charlatão com emplastos para todas as morbidezes do gênero humano. Nos psiquiatras protegidos por diagnósticos científicos para ele há uma réstia escondida do suábio Franz Anton Mesmer, que, no jogo das coincidências, nasceu no mesmo dia que ele, e isso o faz conjecturar sobre as visitas que faz ao astrólogo e com ele confabular sobre Jung, o suíço escorraçado da patota freudiana, e a sincronicidade. Tinha a respeito de si, e dessa forma se percebeu adulto, mesmo desconfiando ser fruto de engano, como nos bons médicos que diagnosticam transtorno bipolar e recomendam Benzodiazepina do mesmo modo que o publicitário recomenda comer Nutella, o sentimento de ser um misantropo (a peça de Molière, de algum modo, terá o papel que, criança, havia reservado à narrativa de Capistrano). Adulto, de fato, substituiu os seriados pela literatura; mas, nesse ponto, não sem certa curiosidade, embora lhe agradem os romances de aventuras, fantasias, fábulas, sua preferência recai para a corrosividade de escritores como Molière, Voltaire, Rousseau, La Bruyère, Rabelais, as reflexões e máximas do Marquês de Vauvernagues…
Na verdade, talvez…, o Du… “Vocês viram, o panaca filhinho de mamãe!”. Outros dele se aproximaram, viram a rapieira no chão e gargalharam. “Merecia uma surra, Du, cuzão, … você deixou assim, barato… ele ir embora…”, disse um deles. “O filho da dona… é marica”, gritou o que chupava o pau do Du. Todos riam enquanto ele voltava para casa. “Du, ele falou o quê?”. “Sei lá, queria brincar…, veio tirando uma, me encheu o saco e aí, sei lá, coisa da televisão, coisa de viado…; papo de espada…”. Exposto a gozação, não percebeu como para os meninos da rua o trajo do Zorro era ridículo, ao mesmo tempo em que, isso sempre teve presente do episódio com o Du, nunca formou uma imagem precisa do que aconteceu, pois os fragmentos retidos na memória, a máscara, a capa, o chapéu, a rapieira…, usava apenas para brincar no quintal…; aliás, não lembra se estava ou não fantasiado…; não lembra ao certo por que o Du aceitou brincar de Zorro…; aliás, Tarzan, bang-bang, revolver de cano branco, Du, a lagoa, a caverna por onde Dom Diego, do quarto dele na construção do México colonial numa fazenda de um fidalgo de Los Angeles, cidade que anos anos depois…, tinha acesso por meio de uma passagem secreta e se transformava no justiceiro que nos vilões deixava a marca do Z, ficaram para ele como partículas de açúcar cristalizadas, areia ou algo parecido, imperceptíveis quando juntas num recipiente qualquer, mas e assim cada qual podendo ser isolada ganhava uma existência sem sentido, desconectada, absurda… Gay Willians, Armando Joseph Catalano, escolhido pela Disney para ser o Zorro, em papel disputado com Britt Lamond, Glase Lohman, que viveu o vilão Capitão Monastário, Norman Foster, o produtor bateu o martelo, viveu os últimos anos na Argentina, onde morreu repentinamente, fulminado por um ataque cardíaco, onde, convidado por Isabelita Perón, viveu fazendo aparições públicas como Zorro.
Ilustração: Zorro – Franklin Valverde